Esteban Mercatante
O livro China: onde os extremos se tocam. Trótski, revolução permanente e a crítica do multilateralismo do capital na era Xi Jinping, de André Barbieri, traz elementos fundamentais para o debate sobre o que é a China hoje.
A publicação de um estudo sério e profundo sobre a China atual é sempre uma boa notícia. Compreender as transformações do gigante asiático nas últimas décadas e seu impacto nas relações internacionais é essencial para refletir sobre os rumos do sistema mundial. A Ediciones Iskra lançou neste ano China: onde os extremos se tocam. Trótski, revolução permanente e a crítica do multilateralismo do capital na era Xi Jinping, de André Barbieri, que cumpre plenamente esses requisitos de seriedade e profundidade.
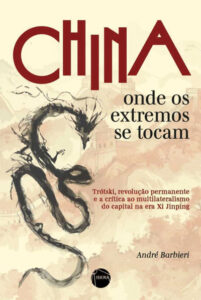
O livro está organizado em três partes. A primeira discute o papel que a China pode desempenhar em uma ordem mundial cada vez mais desorganizada. Para isso, investiga as profundas transformações pelas quais a sociedade chinesa passou nas últimas décadas. A segunda parte percorre as estratégias que estiveram em jogo na China desde os primeiros levantes revolucionários do século XX, discutindo as consequências da direção maoísta na tomada do poder, que, desde a fundação da República Popular, impôs um bloqueio a qualquer transição socialista. Por fim, a terceira parte aborda os processos de luta que vêm se desenvolvendo ao longo da China, as respostas do regime a eles e as enormes possibilidades revolucionárias que se apresentam no barril de pólvora que é a China hoje — se forem construídos partidos revolucionários capazes de aproveitá-las.
O desenvolvimento do capitalismo na China
André recorreu a um amplo estudo de fontes que permitiram a ele — e também a nós, leitores — nos aproximar da complexidade da configuração econômico-social da China. Ele oferece fundamentos sólidos para entendermos a China como uma formação social capitalista, apesar de todos os aspectos híbridos — as “características chinesas”, por assim dizer — que marcam essa formação econômico-social.
Um aspecto muito valioso do trabalho é o amplo leque de autores com os quais Barbieri polemiza. Encontramos algumas discussões já clássicas no campo da esquerda marxista e afins, como as de Perry Anderson, no artigo Duas Revoluções, e também Giovanni Arrighi, em Adam Smith em Pequim. Mas também há debate com estudos mais recentes, como o de Isabella Weber sobre como a China teria escapado da “terapia de choque” aplicada na Rússia e na Europa Oriental. Domenico Losurdo, Michael Roberts, Elias Jabour são outros autores com os quais André desenvolve contrapontos. Essa argumentação articulada com a crítica é bastante produtiva, pois permite expor os pontos frágeis das visões que tentam questionar ou relativizar a transformação capitalista da China.
Ao longo do livro, por meio dessas polêmicas, é apresentada uma rica evidência empírica da fragilidade das teses que negam o caráter capitalista da China. O livro mostra, de forma consistente, como as reformas iniciadas por Deng Xiaoping deram início a um processo que criou as condições para o desenvolvimento de relações de exploração baseadas no trabalho assalariado — o que é um critério fundamental para discutir se uma sociedade é ou não capitalista. O centro de gravidade da ordem social capitalista, seu ponto de apoio existencial básico, está na disponibilidade de uma força de trabalho assalariada da qual se possa extrair mais-valia. Claro que, historicamente, existiram formações integradas ao capitalismo mundial sem extração de mais-valia por meio de relações salariais — como nos casos das plantações de algodão escravistas dos EUA nos séculos XVIII e XIX. Mas, se quisermos avaliar se a China corresponde mais ao que diz a burocracia do PCCh — um “socialismo com características chinesas” — ou se é de fato uma sociedade capitalista, devemos investigar em que medida as relações de produção se transformaram no sentido capitalista. André mostra como a expropriação característica da força de trabalho assalariada, sobre a qual se sustenta o capitalismo, avançou na China. Estuda como se desenvolveu uma precariedade laboral com caráter estrutural, organizada pelo próprio governo, dentro dos limites da estabilidade social. A força de trabalho migrante — hoje maioria da classe trabalhadora do país — tem seus direitos cerceados quando deixa o campo e se instala nas cidades ou zonas industriais sem autorização. Isso permitiu à China dispor de uma força de trabalho com salários muito baixos e contratos temporários, assegurando seu modelo de crescimento e oferecendo-o ao grande capital transnacional por décadas.
Isso não significa que exista uma medida única para determinar quando uma formação econômico-social contraditória torna-se definitivamente capitalista. Ao mesmo tempo em que há inúmeros indícios do capitalismo na China, há também elementos que parecem relativizá-lo ou negá-lo. Entre eles, nada menos do que o controle do aparato estatal por um partido que se define como comunista. E, se olharmos para a política econômica, veremos práticas intervencionistas e de planejamento que vão além do que é comum nos Estados capitalistas — embora venham sendo progressivamente restringidas ao longo das décadas. Assim, é necessário agir com cuidado para discernir, através dessas manifestações contraditórias, qual é a realidade da China. Barbieri faz isso com sucesso e oferece um panorama da China atual que permite compreender o profundo alcance da penetração do capital. O livro mostra como, mesmo que a China não demonstre o funcionamento “normal” da lei do valor segundo os parâmetros ocidentais — devido à sua reconfiguração muito particular da primazia capitalista —, isso não pode nos levar a negar sua presença. Ele argumenta de forma convincente que apontar uma suposta incompatibilidade entre o controle estatal pelo Partido Comunista e a primazia das relações capitalistas de produção tornou-se uma maneira comum de reduzir a complexidade do caráter sui generis do capitalismo chinês para elaborar uma exegese favorável de suas políticas. Isso oculta o fato de que o Estado na China — como em todos os países onde há dominação social de uma classe exploradora baseada na extração de mais-valia — é também um órgão de dominação de classe da burguesia sobre os operários e camponeses.
Um desafio teórico importante colocado pelo processo chinês é identificar como, sem uma ruptura política aberta e mantendo a continuidade estatal, operou-se essa contrarrevolução social. Creio que aqui encontramos uma definição importante do que foi a China desde a revolução de 1949: uma economia de transição, sem uma identidade social estritamente definida, já que as marcas do antigo sistema capitalista de produção e reprodução social sobreviveram como resquícios subordinados, após a expropriação da classe proprietária dentro da nova sociedade emergente. O fator decisivo para entender a direção tomada por uma formação com tais características contraditórias está nas formas do Estado, ou seja, se havia de fato direção da própria classe operária ou se uma burocracia usurpava o poder, expropriando-o das massas. Essa é uma questão que toca tanto a base social quanto o regime político. O socialismo, como bem observa Barbieri, só pode ser uma construção consciente — ele não se desenvolve “automaticamente” como o capitalismo. Depende dos instrumentos de auto-organização e autodeterminação conscientes das massas, como os conselhos de tipo soviético (com toda a particularidade que cada país confere a essas instituições de coordenação e autoatividade) para se desenvolver. Uma economia de transição, se caminha do capitalismo ao socialismo, precisa desses organismos fundacionais de um novo tipo de Estado (como a Comuna de 1871, aperfeiçoada pelos sovietes russos de 1917) para avançar. A República Popular nunca teve um Estado desse tipo desde 1949. O Estado operário burocraticamente deformado que surgiu da Revolução de Outubro de 1949 — que, nessa etapa, libertou a China do jugo imperialista mais do que expropriou a burguesia (o que ocorreria mais propriamente em 1956) — continha elementos de uma economia de transição na medida em que retirava o poder da burguesia. No entanto, a ausência de uma estratégia ligada à expansão internacional da revolução — algo que o maoísmo compartilhava com o estalinismo consolidado na URSS — implicou primeiro o estancamento e, depois, a regressão do rumo transicional da economia dentro do território chinês. Em vez de avançar para o socialismo, deterioraram-se os elementos da economia planejada burocraticamente e fortaleceram-se as condições para o ressurgimento das tendências capitalistas. Essas tendências foram impulsionadas por todo o curso das reformas de abertura de Deng Xiaoping e pela ofensiva liberalizante de Jiang Zemin. Este último, durante a década de 1990, completou a restauração capitalista por meio da drástica reconfiguração das empresas estatais.
Essa caracterização da forma de transição como uma que está em fluxo, na qual ou se avança rumo ao socialismo ou se retrocede para o domínio capitalista, e a importância que assumem as formas do Estado, a democracia soviética, é fundamental. Isso permite desmontar certos formalismos nos quais recaem até autores em outras ocasiões tão sutis e meticulosos como Perry Anderson, ao afirmar a continuidade de algum tipo de socialismo na China pela permanência do regime do Partido Comunista no poder. A segunda parte do livro, que percorre as estratégias de tomada do poder de Mao para localizar as raízes precoces da burocratização da República Popular e o bloqueio da transição, é outro ponto muito relevante do trabalho de André.
Multipolaridade benigna?
A discussão sobre as bases sociais da República Popular é importante por si só, mas também se entrelaça com outra, igualmente relevante, apresentada neste livro desde o título da primeira parte: trata-se da questão de em que medida a China pode desempenhar um papel em um sistema multipolar mais benevolente para os povos oprimidos do que a ordem imperialista dominada pelos EUA, baseada na pilhagem do planeta e transformada em bastião do domínio social reacionário do capital em escala global. Negar os aspectos capitalistas da China permite questionar a ideia de que, com sua ascensão, ela repetirá as dinâmicas de saque, pilhagem e opressão características das potências capitalistas. O que Barbieri propõe é que devemos considerar a China como um Estado capitalista “em rápido ascenso, com traços imperialistas”. Minha opinião é que a situação atual da China justificaria afirmar com mais clareza que se trata de um imperialismo em processo de construção — ou de consolidação —, pois, se compararmos sua projeção de poder internacional, ela já supera a de muitos países que não hesitaríamos em chamar de imperialistas: nada menos que o Reino Unido, Alemanha ou Japão. Claro, devemos evitar considerar que se trata de um processo consumado; essa é uma advertência feita por Barbieri com a qual só podemos concordar. Mas, além desse matiz na definição do momento atual da China, o importante consenso é que seu status e comportamento no cenário internacional não permitem falar levianamente sobre uma perspectiva de a China atuar como garantidora de uma multipolaridade benigna ou pacífica.
No livro, podemos observar como o avanço da China já a levou a adotar políticas que contradizem essa ideia de contrapeso benevolente aos imperialismos ocidentais. Na África, onde mais vantagem obteve sobre as outras potências, vemos que as pressões derivadas do endividamento e o aprofundamento do extrativismo acompanham a expansão chinesa. O Estado chinês fortaleceu sua posição político-militar nos países africanos por meio de mecanismos econômicos, assegurando o fornecimento de matérias-primas em troca de investimentos em infraestrutura ou contribuições em dinheiro para sustentar as classes dominantes continentais dispostas a colaborar geopoliticamente com Pequim. A China exerce uma política de influência permanente sobre a segurança nacional, mergulhando esses países em estreitas redes de dependência. A noção de não intervenção nos assuntos internos dos países se ajusta cada vez menos ao que a China realmente faz. Na América Latina e em outras regiões, isso ainda não se manifesta da mesma forma, o que pode criar a ilusão de que ela pode se tornar uma potência que não reproduz os padrões imperialistas — mas isso é uma perspectiva distorcida dos efeitos da expansão chinesa.
O desenvolvimento desigual e combinado na China
Finalmente, outro mérito do livro é mobilizar a categoria de desenvolvimento desigual e combinado para teorizar a trajetória da China. A ideia de “extremos que se tocam”, presente no título, está intimamente ligada a essa abordagem teórica. O desenvolvimento desigual e combinado foi originalmente teorizado por Trotsky para se referir à Rússia czarista do início do século XX, marcada pelos contrastes entre o surgimento de pequenas ilhas de grande desenvolvimento capitalista — que concentravam milhares de operários industriais em fábricas com tecnologia de ponta, muitas vezes instaladas por industriais estrangeiros ou com subsídios do próprio Estado — enquanto a sociedade permanecia dominada por relações de produção servis, sustentáculo do regime do czar.
Para Trotsky, a lei do desenvolvimento desigual e combinado podia ser compreendida como o resultado de três dinâmicas entrelaçadas. A primeira ele sintetizava como o “chicote do atraso”: os Estados capitalistas que ficavam para trás no desenvolvimento — com consequências importantes, por exemplo, para a capacidade militar — viam-se pressionados a buscar a modernização, ou seja, neste caso, a introdução de técnicas capitalistas. Em segundo lugar, temos a “vantagem do atraso”: para os que ficaram para trás, estava disponível — já criada em outros países — tecnologia mais avançada, que não precisava ser desenvolvida do zero. Isso permitia comprimir os tempos históricos. Mas, em terceiro lugar, a possibilidade de incorporar essas novas técnicas e transformar com elas a estrutura econômica era limitada pelas condições da sociedade em que eram introduzidas. No regime russo, a introdução de grandes fábricas não significou, de forma alguma, uma modernização da economia e das relações sociais como um todo. Pelo contrário, o czarismo buscava a modernização para perpetuar seu poder, baseado na nobreza e seu controle da terra, e para impulsionar seus projetos aumentava a pressão sobre o restante da sociedade, multiplicando tensões e provocando grandes explosões sociais que levaram já em 1905 à primeira tentativa de revolução.
Com essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky mostrava como os processos nacionais não podiam ser analisados isoladamente do que ocorria no conjunto do planeta, dada a formação de uma economia mundial capitalista profundamente interdependente.
Neste livro, vemos uma retomada desse método para traçar os contornos do desenvolvimento desigual e combinado da China. A China de Xi é analisada em conexão com a reconfiguração que o capitalismo mundial atravessou nas últimas décadas. A ascensão do gigante asiático deve ser compreendida não apenas observando as mudanças sociais, políticas e econômicas geradas pela restauração capitalista, mas entendendo que se trata de um capítulo — muito destacado — desses processos de transformação do sistema mundial como um todo. Essa compreensão, que percorre o livro, permite evitar as tentações do nacionalismo metodológico nas quais caem boa parte das pesquisas sobre a China, com olhares centrados quase exclusivamente no que aconteceu dentro do país, nas políticas do Estado, enquanto o cenário internacional aparece apenas como pano de fundo.
A China, após mais de quatro décadas desde as primeiras reformas de Deng, tornou-se o polo mais dinâmico da acumulação de capital global e a oficina manufatureira do planeta. Mas uma transformação tão acelerada teve enormes consequências desequilibradoras, que se manifestam nesses extremos que se tocam. Nem todos os setores da China foram igualmente favorecidos pelos benefícios do crescimento econômico. A locomotiva do crescimento, onde chegou, impôs adaptações aceleradas aos regimes laborais exigidos pela maquinaria desenfreada da acumulação: jornadas de trabalho extenuantes ou o confinamento em fábricas-dormitório tornaram-se normas às quais tiveram que se adaptar as novas gerações da classe trabalhadora chinesa, tudo isso sob a bandeira de um curioso “socialismo com características chinesas”, que oferecia um exército de mão de obra barata às multinacionais que transferiam para o país parte de suas linhas de produção.
Hoje, convivem na China muitas Chinas, muito diversas em termos de suas capacidades materiais. Desde o ambiente tecnológico superavançado de Shenzhen, passando por outras cidades do Sudeste Asiático onde se localizam as fábricas mais produtivas e baratas do mundo, até outras regiões onde as condições da vida rural tradicional se mantêm com poucas mudanças. Entre esses extremos, encontramos múltiplas variações, que estão submetidas a transformações sucessivas impulsionadas pelo regime para sustentar a máquina de crescimento, condição essencial para garantir a ordem social.
Multipolaridade ou revolução permanente?
Dado o ritmo frenético das transformações na China, não surpreende que tenham se acumulado tensões explosivas nas relações entre as classes sociais e que o regime do PCCh tenha se tornado, desde a ascensão de Xi, um bonapartismo cada vez mais repressivo. Essa tendência se explica pela necessidade de equilibrar essas tensões e enfrentar a acirrada rivalidade internacional. Ambos os aspectos estão presentes na análise do livro.
Outra das grandes contribuições do trabalho de Barbieri é uma radiografia profunda da situação da classe trabalhadora e de alguns dos principais processos de luta pelos quais ela passou, desde a restauração capitalista até a atualidade. André nos fala de uma classe operária urbana ricamente heterogênea, que absorve em seu seio o proletariado rural migrante.
O acelerado desenvolvimento da China, com suas contradições e extremos que se tocam, levanta a perspectiva de que o país possa se tornar um dos principais focos revolucionários do mundo contemporâneo em convulsão. A partir do estudo das classes sociais e suas frações, dos distintos descontentamentos acumulados pela restauração burguesa e da crescente bonapartização do regime, Barbieri conclui com uma pergunta crucial: será a China o pilar de um multilateralismo benevolente da ordem capitalista mundial, ou será o cenário em que se atualizará novamente a revolução permanente?
Não deveria nos surpreender que nesse país — onde, no século XX, ocorreram gestas revolucionárias muito importantes protagonizadas por operários e camponeses, que décadas antes de expulsar o imperialismo e unificar o país em 1949 já haviam demonstrado disposição para a luta —, e onde hoje, no século XXI, se concentra a força de trabalho que fabrica as mercadorias vendidas em todo o planeta, possam ocorrer algumas das escaramuças revolucionárias mais potentes do futuro. É com essa aposta que o livro se encerra, destacando a importância do trabalho estratégico. Por isso, é fundamental o percurso final do livro pelos debates estratégicos e o chamado a mobilizar as melhores armas da tradição marxista revolucionária para forjar os partidos que possam levar a classe trabalhadora à vitória. Um desafio colocado na China e no mundo inteiro, inseparável da construção de uma organização revolucionária internacional: a Quarta Internacional.